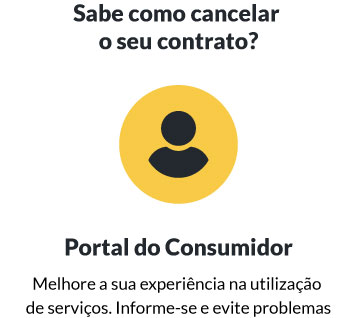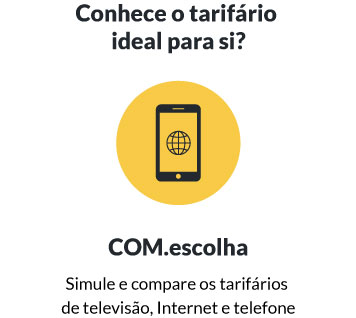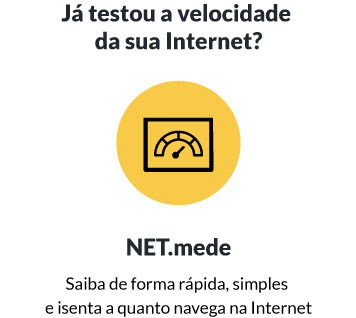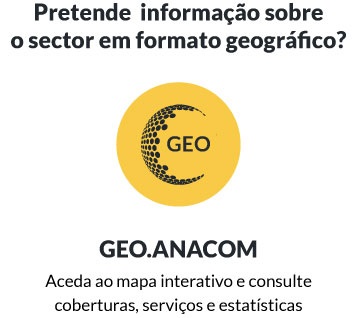CONTRIBUTO CRÍTICO PARA O MODELO FUTURO DE REGULAÇÃO DO AUDIOVISUAL
J.Pegado Liz 1
I - INTRODUÇÃO: RAZÃO PARA CONTRIBUIR PARA O DEBATE PÚBLICO
1.1. Decorre o período de "consulta pública" lançado com a divulgação do documento "Convergência e Regulação", elaborado por um grupo de personalidades nomeadas por despacho ministerial, e apresentado, em simultâneo, pela ICS e pela ANACOM.
1.2. A circunstância de, no momento, ser membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, em representação dos consumidores, não conferindo título especial para a elaboração do presente contributo, não pode constituir também uma "capitis diminutio".
Daí que entenda ser oportuno produzir algumas considerações sobre o referido documento, em geral e sobre o modelo de regulação para o audiovisual em ambiente de convergência, em particular.
1.3. Vários motivos, que se sintetizam, ligados ao teor e ao alcance do mencionado documento, justificam a necessidade desta tomada de posição.
Acontece que, embora, de um modo geral, o documento em causa esteja bem estruturado e revele coerência nas soluções propostas a partir dos pressupostos em que assenta, não consegue, na análise que faz do fenónemo da convergência e das suas implicações, passar além das observações óbvias e das verdades feitas.
1.4. São de três ordens as principais falhas que se encontram no documento:
a) Falta de informação
O nível de informação que o documento revela é não só escasso, como, em muitos aspectos, incorrecto; elementos de facto essenciais são omitidos; outros são desadequadamente utilizados; uma grande parte corresponde a uma observação e a uma análise inexactas da realidade sobre que se debruça; finalmente são descuidados aspectos fundamentais das experiências alheias, que poderiam ser carreadas para a discussão pública.
b) Falta de perspectiva
Mais importante é a ausência de uma perspectiva de médio prazo relativamente à evolução dos media e da sociedade da informação, não só nos seus aspectos técnicos, mas também nos aspectos culturais e filosóficos.
Com efeito, não perpassa ao longo de todo o documento, uma reflexão sobre as linhas mestras de um enquadramento socio cultural do fenónemo da convergência e da previsível evolução tecnológica dos media e do seu impacto na vida em sociedade nos próximos 10 a 20 anos.
Mais grave, a ausência de uma perspectiva filosófica de base que permita compreender o desenvolvimento do ciberespaço e das novas práticas políticas, nas suas relações com a mundialização da economia e a globalização e o advento e o sentido da evolução para a ciberdemocracia planetária e a natureza do direito daí emergente.
c) Falta de concretização
Finalmente, e será o reparo mais importante que se faz ao documento, ele falha completamente ao nível da concretização prática das propostas que faz, que não sustenta nem valida com qualquer modelo técnico, nem assenta, sequer, em qualquer experiência prática comparável, para além de não ter em linha de conta as especificidades próprias da realidade social e dos media em Portugal.
Porque assim é, a generalidade das questões com que pretendeu balizar o debate público passam ao lado dos problemas reais e não servem de guião válido para uma reflexão útil sobre a questão proposta.
1.5. São estes os aspectos que, sucessivamente, se passa a analisar, com o propósito de, no final, concluir por uma proposta de abordagem que se afigura mais consentânea com as necessidades futuras da regulação dos media em ambiente de convergência, em Portugal.
II - AS DEFICIÊNCIAS NA INFORMAÇÃO DE BASE
2.1. ADVERTÊNCIA PRÉVIA
2.1.1. Para que não subsistam quaisquer dúvidas quanto ao teor e às intenções das afirmações produzidas, diz-se, desde já, que, quando se sustenta que ao documento produzido falta informação fundamental, não se quer induzir, sequer insinuar, ou menos ainda, lançar a suspeita de que todos, ou cada um, dos elementos que estiveram na origem do documento não possuissem essa informação.
O que se afirma é que o documento, enquanto tal, não a revela e à análise, ao comentário e à proposta, que acaba por enunciar, faltam elementos fundamentais, cuja ponderação deveria ter sido feita, e cuja ausência é de molde a comprometer a consistência das conclusões e a prejudicar a coerência das propostas que enuncia.
2.1.2. Dadas as conhecidas susceptibilidades pessoais, habituais entre nós, não se julga dispicienda esta advertência, nos moldes em que é feita, para que não subsistam quaisquer dúvidas ou reticências quanto à elevada consideração pessoal e profissional em que se têm todos os elementos do grupo de estudo referido, e cuja constituição e composição se não questiona.
2.2. ELEMENTOS DE FACTO OMITIDOS
2.2.1. O documento considera, e bem, que o fenónemo da convergência exorbita as fronteiras de qualquer Estado, mesmo da Europa, e se coloca à escala mundial.
Por ser assim, era fundamental que a questão da globalização da economia, onde o fenónemo se insere, fosse devidamente analisada, como o quadro geral em que a convergência, nos seus vários aspectos, se desenvolve.
Era particularmente importante que os ensinamentos de um Alain Minc ("Le Fracas des Mondes", "w.w.w. capitalism.fr"), de um Dominique Wolton ("Penser la Communication", "Internet: et Aprés?") ou de um Pierre Bourdieu ("Penser la Télevision", "Contre feux") tivessem sido acolhidos e meditados, para não falar já do estudo preparado por Alessandra Colecchia, Dominique Guellec, Dirk Pilat, Paul Schreyer e Andrew Wycott e publicado sob a responsabilidade do Secretário Geral da OCDE, sob o título "Une nouvelle economie? Transformation du role de l' innovation et des technologies de l' information dans la croissance" (OCDE 2000) ou do relatório apresentado ao Conselho da Europa por C.Lamouline e Yves Poullet, e publicado sob o título "Des autoroutes de l' information à la Democracie électronique: De l' impact des tecnhologies de l' information et de la communication sur nos libertés", (Bruylant, 1977), ou ainda do relatório do High Level Expert Group on Social and Societal Aspects of the Information Society, presidido por Luc Soete, e que contou com a colaboração de Armando Rocha Trindade, intitulado "Building the European Information Society for Us All" (1996)
Ao contrário, sobre este tema não há, no documento, uma única palavra.
2.2.2. Mas também se omite qualquer referência aos efeitos de exclusão social dos avanços tecnológicos convergentes e à necessária protecção das camadas de população que terão maiores dificuldades de adaptação às novas tecnologias, seja em razão da idade, da condição económica, de deficiências de vária ordem, da localização geográfica, etc.2
2.2.3. Omissão igualmente relevante é a não consideração, no fenónemo da convergência, da imprensa "escrita", sejam os jornais electrónicos, seja a edição de livros na internet, com as questões que se põe ao nível quer da regulação dos conteúdos dos primeiros em suportes não duráveis, quer ao nível dos direitos de autor dos segundos.
2.2.4. Finalmente, o aspecto do entretenimento (telenovelas, concursos, "video-games", "chats", etc) e as indústrias com ele relacionadas também foi praticamente olvidado no documento, que lhe dedica algumas poucas linhas, quando ele é fundamental no desenvolvimento das NTIC, e necessita regulação adequada em ambiente de convergência quiçá, muito mais do que a informação, o e-comércio ou a interactividade.
2.3. INFORMAÇÃO INEXACTA
2.3.1. As inexactidões e as incorrecções no documento começam logo com a definição que é dada da convergência e que faz tábua rasa de textos essenciais sobre o assunto, de que se destaca o relatório aprovado pelo Comité PIIC da OCDE a 27 e 28/2/97, relativo a "L' infrastructure mondiale de l' information et la societé mondiale de l' information: Les politiques requises" (OCDE 1997) e o relatório do Grupo "Convergence technologique et stratégies industrielles", presidido por Eric Baptiste (in La Documentation Française, Fev. 2000).
Com efeito, o fenónemo da convergência não se pode limitar aos aspectos referidos, mas envolve também aspectos culturais, sociais e económicos gerais que tem de ser equacionados, como, aliás, já foi feito ao nível comunitário.
Por outro lado, mesmo nos aspectos restritos da convergência tecnológica, há parâmetos fundamentais que, logo ao nível da definição, relevam de conceitos essenciais que se não acham refletidos no documento - está-se a pensar nas noções de infraestrutura e de sociedade mundial da informação (GII-GIS) que supõe a interconexão e a interoperabilidade, com as inerentes consequências ao nível da transformação dos mercados e das trocas e nos efeitos relativamente à coesão social e ao modelo de desenvolvimento.
2.3.2. Inexacta e incorrecta é também a informação que é transmitida sobre os modelos de regulação que servem de paradigma à proposta.
Com efeito, em país algum da Europa comunitária existe hoje, em funcionamento, um modelo que regule, em simultâneo, a imprensa escrita, o audiovisual e o cinema e ainda as telecomunicações, a internet, o comércio electrónico e a publicidade, nos aspectos formais e substanciais.
Desde logo não é esse o modelo italiano, como o documento reconhece; a Suiça, além de não fazer parte da União Europeia, não pode, pela sua dimensão e pelas suas características sócio-politicas próprias, servir de exemplo válido; e o "modelo inglês", que se pretende importar, não só ainda não está em funcionamento, como não tem o âmbito que se pretende atribuir à proposta do documento.
Importante será referir que em país algum da Europa, mesmo da Europa em vias de alargamento, ou da Europa do Conselho da Europa, ou mesmo dos países da OCDE, alguma vez se pretendeu, até hoje, implantar um modelo de regulação integrado com o âmbito e o alcance daquele para que, aparentemente, se aponta na proposta.
2.4. ANÁLISE INCORRECTA DA REALIDADE
2.4.1. Mas também ao nível da mera análise da realidade e das tendências do mercado, quer nacional, quer internacional, o documento não reflete, com correcção, os dados conhecidos.
Com efeito, e ao contrário daquilo para que o documento aponta, não parece que o futuro seja o mais risonho, quer para o UMTS, quer para a DVB-T.
Têm-se, por outro lado, acumulado as falências nas empresas ditas da e-economia, e o e-comércio não se tem revelado potenciador de grande desenvolvimento.
2.4.2. Também no mercado português, ao contrário do referido, o investimento em NTIC abrandou no ano transacto e não é previsível, na actual conjuntura, que recupere no ano em curso.
Quanto à Internet, o nosso país é dos mais atrasados da Europa e apenas15% dos portugueses, na melhor das estimativas, tem o hábito de se ligar com regularidade à Internet; a ligação, nas escolas, é a mais baixa da Europa, imediatamente a seguir à Grécia.
Segundo os dados divulgados na última reunião do CISI pelo então Ministro Mariano Gago, apenas 15% dos sites electrónicos dos organismos dependentes do estado registam conformidade com o nível A de acessibilidade (o mais elementar) para cidadãos com necessidades especiais e só 8% facultam um bom nível de serviços on line.
Por outro lado, no e-governo, Portugal ocupa o 179º lugar em 196 países analisados em estudo da Universidade de Brown/World Market Research Centre e o penúltimo lugar de um universo de 22 países analisados pela Accenture.
Os números relativos ao comércio electrónico também são decepcionantes, quer em número de transacções, quer em volume de vendas, mantendo-se por parte dos utilizadores um elevado grau de ignorância e de desconfiança relativamente ao e-comércio.
2.5. FALTA DE ADEQUADA PONDERAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS ALHEIAS
2.5.1. Finalmente, o documento não reflete devidamente, nem pondera suficientemente, as experiências de outros países, que, ao longo de vários anos, tem vindo a coordenar esforços, a desenvolver iniciativas e a produzir estudos aprofundados sobre esta matéria, que é de interesse comum mundial.
Dão-se dois exemplos, a França e a Inglaterra.3
2.5.2. No caso da França foi ao longo de vários anos que as diferentes entidades envolvidas foram desenvolvendo uma aproximação original às novas tecnologias de informação e de comunicação, sem pôr em causa fundamentalmente, o aparelho institucional existente, pela implementação dum sistema original de co-regulação (cfr. o bem elaborado Relatório sobre "La co-regulation, contribution française pour une régulation mondiale", apresentado ao 1º Ministro francês a 29 de Junho de 2000, por Christian Paul e o estudo sobre a "Internet et les réseaux numériques", adoptado pela Assembleia Geral do Conselho de Estado, a 2 de Julho de 1998, para não referir já a Consulta Pública sobre a adaptação ao quadro legislativo da sociedade de informação, lançada pelo Ministério da Economia, das Finanças e da Indústria, entre Outubro e Dezembro de 1999, que bem poderia ter servido de guia e de paradigma para o documento apresentado, e esteve na origem da Lei francesa sobre a Sociedade da Informação (LSI)).
2.5.3. No caso inglês foi também ao longo de muitos anos que se foram gerando os consensos alargados entre personalidades, instituições e partidos políticos no sentido da reformulação do quadro institucional que estiveram na origem do Livro Branco sobre a matéria.
A solução encontrada não partiu nem de uma posição politica, nem de uma qualquer "ideologia" tecnocrática, mas simplesmente de considerações eminentemente pragmáticas e muito circunscritas à realidade do Reino Unido.
A metodologia utilizada, em particular o faseamento do processo e os diferentes níveis das decisões intermédias e dos ajustes institucionais progressivos, deveriam ter merecido uma atenção especial no documento, principalmente na medida em que se parece apostar numa "cópia" do modelo para que aponta a solução inglesa.
III - A FALTA DE UMA PERSPECTIVA DE MÉDIO PRAZO E DE UM ENQUADRAMENTO SOCIO-CULTURAL E FILOSÓFICO
3.1. A AUSÊNCIA DE UMA PERSPECTIVA DE MÉDIO PRAZO
3.1.1. O que choca particularmente no documento em análise é a falta de uma perspectiva de médio prazo, relativamente à evolução e dos media, quer em Portugal, quer no mundo.
O documento limita-se a fazer uma fotografia, aliás desfocada, da realidade do momento, mas sem qualquer perspectiva quanto à evolução previsível das tecnologias evoluídas.
E o modelo de regulação que propõe apenas tem em conta essa realidade, e não a realidade futura, apenas é pensado para o presente, que, mesmo hoje, já é passado, e não para o provir.
Ora já é possível hoje antever quais as principais evoluções quanto aos diversos meios de comunicação e, mais do que os resultados concretos dessa evolução, o sentido dela em termos da rápida transformação e da mutação previsível das tecnologias da comunicação.
3.1.2. Para que o modelo apresentado não seja considerado ultrapassado já no momento da sua eventual implementação, era importante que os parâmetros previsíveis da evolução tecnológica e das suas incidências económicas, tivessem sido equacionadas.
Era, designadamente, necessário, ter aprofundado os aspectos económicos da evolução tecnológica, em termos de concentração empresarial dos media e da transnacionalização da sua exploração.
Era mesmo essencial que a dimensão mundial do desenvolvimento das tecnologias tivesse sido tomado em consideração, para a avaliação da medida em que certas fórmulas de regulação serão compatíveis com aquela dimensão.
Nada disso é feito no documento em apreço.
3.2. A FALTA DE UM ENQUADRAMENTO SOCIO CULTURAL
3.2.1.A afirmada "neutralidade" das tecnologias não pode encobrir a ideologia que, no fundo, está subjacente à alegada inevitabilidade da convergência como fundamento da desregulação e do liberalismo.
Porque de uma verdadeira ideologia se trata, era importante terem sido demonstrados alguns dos paradoxos da sociedade da informação e definido qual o modelo socio-cultural que se pretende que seja servido pelas NTIC.
3.2.2. Era obrigação do documento ter assente as suas observações numa "crítica da comunicação", corolário de uma teoria da comunicação em sociedade, que procurasse definir qual o modelo cultural das relações entre os individuos e o projecto ao qual as NTIC estão afectas.
Ao contrário, pelo documento prepassa a ideia de que "a técnica define o conteúdo da comunicação" (D. Wolton, in "Internet, et aprés?").
Não é essa, claramente, a aproximação que se defende e, nesse sentido, entende-se que "o essencial da comunicação não é a performance das técnicas, nem a abertura dos mercados, mas a necessidade de pensar a comunicação" (id.ibidem).
Neste aspecto, o documento é um deserto.
3.3. A FALTA DE UMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA
3.3.1. Mas, para além da ausência de um enquadramento socio-cultural do fenónemo da convergência, é também em vão que se procura uma qualquer linha de reflexão filosófica, que se reputa essencial, na aproximação a tal fenónemo.
3.3.2. Era importante que o documento se tivesse feito eco das principais interrogações e dúvidas que subjazem ao modelo económico e social para que aponta a "sociedade da informação" e para o tipo de "homo comunicans" ou de "homo videns" que se serve das "auto estradas da informação".
Era imprescindível que o documento tivesse analisado as preocupações de que dão conta autores como Pierre Lévy4 , Julien Benda5, Jean Baudrillard6 , Gerad Fuchs 7, Daniel Junqua8, Dominique Wolton9, Carine Doutrelepont e outros10, François de Muison11, Dominique Nora12, Alain Finkielkrant e Paul Soriano13, Françóis de Closets e Bruno Lussato14, Giovanni Sartori15, Mona Chollet16.
Era essencial e, repete-se, verdadeiramente indesculpável, que o não tenha feito, que o documento tivesse tomado como "guia espiritual" o conjunto de relatórios e de pareceres da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa reunidos em volume sob o título "L' univers virtuel, miracle ou mythe?" (Abril, 1998).
3.3.2. Ao contrário, no documento ou não se advinha qualquer reflexão filosofica de base ou, se alguma transparece, é o seguidismo
a-crítico das orientações liberais ou liberalizantes norte americanas, relativamente às quais, mesmo na "europa institucional", já são várias as vozes que se têm erguido, como foi o caso do CES e do PE na aprovação do recente "pacote" das telecomunicações17.
IV - FALTA DE CONCRETIZAÇÃO DE UMA PROPOSTA COERENTE DE REGULAÇÃO
4.1. O "CONSENSO"
4.1.1. Com base nos pressupostos que se deixaram analisados, os subscritores do documento, estranhamente, conseguem, alegadamente, chegar, após enunciarem 15 questões em que, aparentemente, se não conseguiram pôr de acordo, ao único "consenso" de que dão conta - o do modelo futuro de regulação, "em torno da ideia de que a convergência aconselharia a não separação orgânica da regulação de conteúdos da regulação das redes e dos acesso admitindo a possibilidade de uma entidade única ser responsável pela regulação das duas realidades, apesar dos interesses e dos valores divergentes que presidem a cada uma delas" ou seja, e mais explicitamente ainda, por razões de eficácia o documento é consensual na "defesa de uma unificação orgânica, caracterizada pela existência de um regulador único a nível nacional, conjugando as diversas atribuições e competências necessárias à regulação do sector em causa, e hoje dispersas por vários organismos".
E diz-se estranhamente, precisamente porque, no entendimento que se tem de uma "consulta pública" sobre o modelo de regulação, aquilo que o documento deveria deixar em aberto era a solução final, e aquilo a que deveria ter respondido era à série de questões que põe e outras que não enuncia e deveria ter formulado.
Foi assim, designadamente, em França e em inglaterra, cujo modelo se parece querer importar, onde só no estádio de "Livro Branco" se avançou com a hipótese de uma certa unificação de entidades reguladoras, e, no entanto, de âmbito muito mais restrito do agora consensualizado pelo documento.
4.1.2. Da leitura do documento não pode, assim, deixar de se ficar com a sensação que pretende em vez de uma verdadeira e própria consulta pública, o que o documento lança é, antes, a justificação, avalizada pela competência e pelo saber dos seus subscritores, da posição em dado momento avançada por um elemento do Governo que, por escassos meses, teve o pelouro da comunicação social.
É reparo que, introdutoriamente, não pode deixar de se fazer, na medida em que a forma como o documento é apresentado não seja indutora de uma conclusão aparentemente consensualizada entre os subscritores do documento, mas que só deveria ser equacionada como resultado da consulta pública e tendo em conta a análise e a verificação da consistência das premissas de que parte.
4.2. A FALTA DAS LINHAS MESTRAS DO MODELO
4.2.1. Aliás, o modelo de "regulador único" que é apresentado, para alegadamente aglutinar as competências das sete entidades que se atropelam hoje na regulação de aspectos parcelares do sector das comunicações e dos media, baseia-se apenas, no dizer do documentos, "em considerações de eficácia".
Acontece, porém, que nem sequer tais razões são devidamente analisadas e quantificadas, quando era imprescindível tê-lo feito nesta fase para que a hipótese fosse consistente.
Da forma como é apresentada, a "maior eficácia" do modelo é apenas uma suposição, quando muito uma intuição. Nada, no documento, justifica, demonstra e menos ainda garante, os ganhos de eficácia, quer quanto à qualidade da regulação assim obtida, quer nos ganhos em termos de sinergias e de diminuição de custos operacionais.
Aliás, dificilmente entidades como o Instituto do Consumidor, a DGCC ou a CACMP, pelas competências, outras, de que dispõem, poderiam alguma vez ser absorvidas por uma entidade única, com uma única tutela.
Mas também relativamente as outras entidades com competências mais limitadas e mais próximas, ainda assim a óptica da sua aproximação dos fenónemos em causa, a lógica iminente à sua actuação, os valores e os princípios por que se pautam e que as orientam, sendo substancialmente diferentes, quando não mesmo salutarmente divergentes ou conflituantes, não se alcança como será possível, se desejável, a sua "aglutinação numa única entidade de regulação".
4.2.2. Dificílmente, no entanto, será aceitável que meras "razões de eficácia", aliás não justificadas, nem comprovadas, seja fundamento bastante para uma alteração institucional com o âmbito e o alcance do alegadamente consensualizado.
Importaria, e o documento não o faz, que, à semelhança do que se passou em Inglaterra com o Livro Branco, o documento tivesse analisado sucessivamente:
A) As comunicações no Séc.XXI, a perspectiva e os objectivos do Governo;
B) A dinâmica do mercdo, a concorrência, a necessidade de regulação e da mudança;
C) As garantias do acesso universal;
D) As garantias da diversidade e do pluralismo;
E) As garantias de qualidade dos serviços;
F) As garantias de protecção dos interesses dos cidadãos;
G) As propostas fundamentadas do novo quadro regulamentar;
H) O processo e o faseamento da sua implementação.
Só com a enunciação destas questões e a comprovação de que elas seriam melhor resolvidas com o modelo anunciado, se afigura possível ter-se apresentado a solução proposta como consensual.
Não sendo o caso, as dúvidas quanto à bondade da solução são, não só legitímas, como verdadeiramente inultrapassáveis.
4.3. A AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS COMPARÁVEIS
4.3.1. Sendo o fenónemo em apreço de nível mundial, seria também natural que, acordando tardiamente para ele em Portugal, o documento tivesse procedido a uma análise de experiências alheias já mais avançadas e designadamente, parecendo apontar para o modelo do regulador único, tivesse dado conta da forma como esse modelo se tem vindo a alicerçar no Reino Unido, de quais as dificuldades e resistências encontradas na sua implementação, do seu faseamento, do ponto de situação actual, e das razões, a favor e contra, que, aí, têm sido aduzidas.
4.3.2. Para além de uma referência ocasional, é em vão que se procura, no documento, o apoio das experiências alheias, a sua comparação em termos de modelos alternativos e os seus resultados como forma de validar a opção proposta.
Esta falta, num documento posto à discussão pública, é de molde a induzir em erro o público em geral, que mereceria maior consideração, já que, para os especialistas, que tenham acompanhado, com maior ou menor detalhe, as experiências alheias, tal falta não pode senão ser considerada como o reconhecimento de que, nelas, não encontraria o documento apoio seguro para a solução apontada.
Mas era correcto não o ter omitido.
4.4. A ESPECIFICIDADE PRÓPRIA DA REALIDADE SÓCIO-CULTURAL NACIONAL
4.4.1. Ao pretender transpôr, intuitivamente, por razões de mera eficácia, o modelo inglês, ainda que alargado, o documento lançado para a consulta pública faz tábua rasa da realidade sócio cultural nacional e do papel e da dimensão dos media que temos.
Com efeito, em parte alguma, do documento, se encontra uma reflexão sobre a conveniência, a oportunidade e a adequação do modelo à realidade social nacional e ao sistema jurídico-constitucional que o enforma.
É este aspecto essencial para se poder avaliar correctamente se, e em que medida, o modelo proposto de regulador único corresponde não só ao quadro legal e constitucional que temos, mas também a forma como, em concreto, os operadores, os fornecedores de serviços, e os utilizadores e consumidores se articulam relativamente aos meios de comunicação em causa.
4.4.2. Era importante, assim, ter-se analisado em que medida certos valores e certos direitos e interesses fundamentais podem ser melhor respeitados, garantidos ou assegurados pelo modelo proposto ou se, ao invés, existem possibilidades de as garantias de defesa dos consumidores e utilizadores serem afectados por ele.
Era imprescíndivel ter-se feito uma avaliação de prós e contras do modelo proposto em aspectos funcionais e organizativos, demonstrando como, nas circunstâncias nacionais, o modelo proposto poderá contribuir para uma maior e maior eficaz protecção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos utilizadores dos media e dos sistemas de comunicação electrónica.
Era essencial que, desse balanço tivesse resultado quais os ganhos efectivos em termos de redução de custos, maior operacionalidade, mais rapidez, maior eficiência, acrescida confiança, alargada inclusão social.
Era, enfim, decisivo, que tivesse ficado demonstrado que o cumprimento das obrigações de serviço universal e do serviço público pelos diversos operadores será melhor garantido pelo modelo apresentado.
Nenhuma destas demonstrações foi feita, nenhum destes desafios foi respondido, nenhuma destas questões foi, sequer, equacionada.
4.5. FALTA DE ELEMENTOS PARA ALICERÇAR UMA CONCLUSÃO
Pelas razões enunciadas o documento não contem os elementos indispensáveis para que, com base nele, se alicerce um debate proficuo, menos ainda que legitíme uma conclusão qualquer, mormente aquela para que o documento aponta.
V - REFLEXÃO À MARGEM DO DOCUMENTO
5.1. INTRODUÇÃO: RAZÃO DE ORDEM
5.1.1. Porque o documento passa ao lado das principais e mais importantes questões que se põe a propósito da convergência, julga-se oportuno recentrar a discussão no que verdadeiramente interessa.
O documento em apreço contem subjacente a ideia de que o que faz a comunicação são as técnicas; que, em consequência, basta haver muita informação e interacção para existir comunicação; que o progresso técnico conduz ao melhor entendimento e à felicidade dos homens; enfim, que a comunicação é uma mera questão de tecnologias cuja novidade bastaria para uma revolução na sociedade.
5.1.2. A aproximação de que se parte para a análise do fenónemo do convergência é a inversa.
Para o subscritor, nisto acompanhado por grandes pensadores e sociólogos da comunicação18, são os homens e as sociedades que fazem a comunicação e o essencial não são as técnicas, mas a dimensão cultural
e social da vida humana; em consequência, a performance das técnicas não garante por si verdadeira comunicação; o mais importante na
comunicação são os projectos comuns, a acção social, quando não mesmo a utopia e o sonho; enfim, que a comunicação é, antes de tudo uma questão política em que se joga a democracia e os seus valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da solidariedade.
5.1.3. É evidente que, partindo dos pressupostos de que parte, o documento não pode deixar de defender que "é a técnica que define o conteúdo da comunicação".
E daí que, para o documento, comunicação seja uma indústria como as outras, cuja regulamentação se deve limitar ao mínimo e circunscrita aos aspectos externos e sem qualquer especificidade relativamente aos seus conteúdos.
Aliás, para o documento não existe qualquer diferenciação de conteúdos, a partir do momento em que tudo possa ser reduzido a "bits" e transmitido pelas bandas. E daí que qualquer regulamentação só faça sentido a partir da procura, aliás induzida, e não em relação à oferta, que deve ser inteiramente livre.
5.1.4. A posição que se defende está, claramente, nos antípodas desta aproximação, que é decalcada da filosofia norte-americana, e não tem em conta, nem a realidade nacional, nem o enquadramento europeu.
Mas a confusão ainda é maior quando o documento não consegue distinguir as diferenças de natureza entre os fenónemos televisão e internet e, a pretexto de uma dada convergência na utilização de meios técnicos, defende uma regulação única e uniforme para duas realidades de natureza distinta.
Ao contrário, defende-se antes que a continuidade ou contiguidade de técnica e conteúdo, a possibilidade de o correio electrónico, a telefonia vocal, a transmissão e o acesso a diversos conhecimentos, serem canalizados pelo mesmo terminal, não significa que o sistema de informação e comunicação individual seja o mesmo que comunicação social ou comunicação do tipo mediático.
As diferenças, como bem salientou Dominique Wolton, são não só de ordem funcional, nem social, mas tem a ver com duas culturas diversas. De um lado está a produção, a indústria e a rentabilidade, do outro lado está a política, a cultura e a educação.
5.1.5. É com base nestes pressupostos que se parte para a análise do que deve ser o modelo de regulação para o sector de comunicação social em ambiente de convergência que tenha em conta que não são as técnicas que criam a comunicação e que é indispensável analisar qual o tipo de informação que os novos sistemas produzem, e de como o fazem.
5.2. CONSAGRAÇÃO AO NÍVEL DA CONSTITUIÇÃO
5.2.1. O actual texto constitucional prevê princípios fundamentais para o domínio da comunicação social e aspectos regulamentares e de pormenor sobre a existência, a composição e o funcionamento do orgão regulador, a AACS.
Julga-se que os princípios fundamentais, com consagração constitucional, relativos a direitos e garantias no domínio da comunicação social, devem ser mantidos, quiçá reforçados, em aspectos relacionados com novas práticas e mesmo com o advento da "sociedade de informação", da "cidadania virtual" e da "cybercriminalidade".
5.3.2. Em contrapartida, aspectos verdadeiramente regulamentares, relacionados com o modelo de regulador ou reguladores, devem ser expurgados do texto constitucional, para dar maior flexibilidade ao legislador ordinário para criar, transformar, adaptar ou substituir o tipo e o número de entidades reguladoras para o sector.
5.3. UMA LEI QUADRO DA REGULAÇÃO INDEPENDENTE
5.3.1. Perfilha-se inteiramente a opinião dos que vêm defendendo a necessidade de uma lei quadro da regulação independente19, com os princípios gerais que os devem orientar e alargada a domínios outros que não os meramente económicos.
Com efeito, neste particular, a especificidade das telecomunicações, mesma se incluíndo aspectos relativos à comunicação, não justifica que o organismo que saia da eventual fusão da ANACOM e do ICS não deva estar sujeito a este normativo genérico.
5.3.2. Compete aos estatutos próprios de cada organismo regulador estabelecer as diferenças específicas que os distinguem e às respectivas leis orgânicas as adaptações às suas circunstâncias próprias.
Não se defende, pois, a criação de qualquer regime próprio e diferenciado para o regulador integrado da comunicação, nos seus aspectos técnico-económicos.
5.4. UM PROVEDOR PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL
5.4.1. Porque se entende que os conteúdos se não subsumem às tecnologias, nem os direitos fundamentais são pura emanação da indústria, julga-se que existe todo um conjunto, de importância maior e de relevância social e política indiscutível, de direitos, de obrigações e de garantias, que não podem ser esquecidos e que devem ser objecto não só de regulamentação própria como de um orgão de regulação que os acompanhe, os tutele e sobre eles tenha poderes de efectivo controlo.
Está-se a pensar em realidades como:
- a protecção da vida privada e dos outros direitos de personalidade;
- a liberdade de imprensa;
- o direito de informar e de ser informado;
- as obrigações de interesse público de certos meios de comunicação social;
- o rigor, o pluralismo e a isenção da informação;
- a independência dos jornalistas e dos meios de comunicação social perante o poder político e o poder económico;
- a garantia de expressão e do confronto das diversas correntes de opinião.
5.4.2. Desde que se não ponham em causa alguns destes valores fundamentais da democracia, com directa incidência na comunicação social, será imprescindível que, no âmbito de um quadro constitucional e legal, uma entidade, de reconhecida idoneidade moral, competência profissional e garantida independência, se perfile como garante dos referidos valores, ao nível da administração pública.
Aos Tribunais, como garante último da reposição da legalidade ameaçada ou mesmo violada, deverão ser deixadas apenas as situações de clara ofensa de direitos individuais ou colectivos protegidos pelas disposições legais e regulamentares que tutelam o exercício da comunicação social.
Até lá, no entanto, existe todo um domínio de regulação, quando não mesmo de autoregulação ou coregulação de interesses, que, em defesa de tais valores, não pode deixar de ser confiada a uma entidade pública, isenta, independente, tecnicamente habilitada e éticamente insuspeita, que tenha a possibilidade de, por isso mesmo, exercer uma magistratura de conciliação, mediação, arbitragem e influência, junto dos diversos actores, nos meios da comunicação social.
A fronteira entre as suas competências, as dos organismo reguladores dos vários aspectos parcelares da comunicação em geral e da comunicação social em particular e dos tribunais deve, assim, ser claramente identificada e legalmente definida, como pressuposto essencial para o seu correcto e eficaz funcionamento.
5.4.3.Esta definição passa por repensar e enumerar, de forma límpida, o domínio próprio das atribuições e competências desta entidade, bem como a sua natureza, estrutura e composição.
Quanto ao primeiro aspecto, julga-se oportuno referir que, no actual quadro legal, existe uma atribuição de competências concorrentes, quando não conflituantes, à AACS e a outros organismos da administração pública e dos próprios Tribunais, que haverá que dilucidar.
Refere-se, em particular, o que respeita a:
- licenciamento ou autorização dos operadores de rádio e televisão (em que intervêm, necessariamente, três organismos);
- fiscalização do cumprimento das normas referentes à propriedade das empresas de comunicação social, bem como à classificação dos respectivos orgãos, que melhor caberia apenas ao ICS;
- fiscalização de sondagens e inquéritos, mesmo de natureza política, que deveria ser cometida a organismo próprio com competência específica, e pelo que às de natureza política diz respeito, eventualmente à CNE, com competências alargadas para o efeito;
- identicamente pelo que se refere à publicidade, que a um observatório específico deveria ser atribuída, que não ao IC, com ligação directa à Comissão de Aplicação de Coimas em matéria de Publicidade;
- finalmente, e em relação à denegação do direito de resposta, cuja apreciação em exclusivo deveria caber exclusivamente aos tribunais, juntamente com a apreciação das ofensas a direitos cometidos por meio da comunicação social, sejam de natureza criminal, ou que constituam mero ilícito civil, geradoras de responsabilidade extracontratual.
O núcleo essencial das competências da entidade em causa deverá, assim, concentrar-se em:
- emitir parecer prévio e vinculativo sobre as nomeações e destituições dos administradores e dos directores dos órgãos de comunicação social públicos que tenham a seu cargo as áreas da programação e da informação;
- zelar pela linha de orientação dos órgãos de comunicação social, em particular quando esteja em causa a prestação de serviço público;
- sugerir e dar parecer à AR e ao Governo, relativamente a iniciativas legislativas e regulamentares na área da comunicação social, desenvolvendo os trabalhos de estudo, pesquisa e divulgação indispensáveis;
- fiscalizar os comportamentos susceptíveis de configurar violação aos princípios genéricos e específicos informadores e reguladores da actividade da comunicação social.
- incentivar a utilização, pelos órgãos de comunicação social, de critérios jornalísticos ou de programação, que respeitem os direitos ou interesses individuais e colectivos e os padrões éticos e culturais exigíveis, acautelando as diferentes sensibilidade do público;
- enfim, missão maior, zelar pela independência dos órgãos de comunicação social, assegurar o exercício do direito à informação e à liberdade da imprensa e prover a isenção e o rigor da informação, para o que lhe deverão ser concedidos efectivos poderes de intervenção em todos os domínios, designadamente económicos, com influência no exercício daqueles direitos e liberdades.
5.4.4. A identificação das áreas próprias de competência específica e exclusiva da entidade em questão deve condicionar a sua natureza, estrutura e composição.
O modelo existente, de órgão colegial, com largo peso de membros de nomeação política (7 em 11), emanados do Governo ou da AR, contem em si o germe das insuficiências de que padece e, ainda, da suspeição quanto à sua independência e isenção, independentemente das pessoas concretamente designadas e do seu comportamento efectivo.
Importa, por isso, repensar a solução, encarando, sem preconceitos, a conveniência de ser encontrado um modelo mais adequado e credível da entidade, independente e isenta, de regulação fiscalização e apreciação de queixas relativamente à comunicação social.
Julga-se que não será de excluir, antes tudo parecendo aconselhar, a substituição do actual órgão colegial por um órgão singular, com a natureza de um Provedor para a Comunicação Social, a empossar pelo P.R., precedendo parecer das empresas de comunicação social, dos jornalistas e dos consumidores, e mediante legitimação democrática por votação em AR.
As vantagens de um Ombudsman para a Comunicação Social, de acordo com modelo consagrado em países nórdicos, e já acolhido entre nós com o Provedor de Justiça, são evidentes ao nível da maior operacionalidade, da mais fácil identificação personalizada das suas intervenções, e do maior reconhecimento público da sua autoridade, quer moral, quer jurídica.
Esta personalidade, de reconhecido prestígio nacional, obrigatoriamente consensual e necessariamente dotada de competência técnico-científica indiscutível, de moral irrepreensível e de independência politico-económica constatada, garantias indispensáveis do rigor e da isenção da sua actuação, deveria ser assessorada por um Conselho Consultivo onde os vários interesses do domínio em causa se achassem representados, que reuniria regularmente para se pronunciar sobre as questões que, não sendo de expediente corrente, o Provedor lhe entendesse submeter.
Finalmente, a estrutura dos serviços de apoio, deixadas para diploma do Governo, deveria ser desenhada em ordem a assegurar rapidez, efectividade, correcção jurídica e capacidade de resposta às solicitações que lhe fossem dirigidas e às iniciativas que lhe incumbisse tomar.
Lisboa, 23 de Março de 2002
J.Pegado Liz
--------------------------------------------------------------------------------
1 Advogado. Membro da AACS em representação dos consumidores
2 Sobre este tema é fundamental o contributo dado pelo Observatoire Social Européen "Les autoroutes de l' information: enjeux sociaux et societaux" (GRESEA, Oct.1995)
3 A "Gezetz zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations-und Kommunikationsdienste" (IKDG), alemã de Julho de 1997, será também um excelente exemplo a ter em conta.
4 "Cyberdemocratie, Essai de philosophie politique", ed. Editions Odile Jacob, Jan. 2002
5 "Discours à la mation européenne", ed. Folio/Essais Gallimard, 1993
6 "La societé de la consommation" ed. Denoel, 1970
7 "L' Europe contre la mondialisation" Harmattan, 1996
8 "La presse, le citoyen et l' argent" ed. Gallimard 1999
9 "Penser la communication", Flammarion 1997
10 "Libertés,Droits et Réseaux dans la Société de l' Information", Bruylant, 1996
11 "Le Défi de l' Infocommunication", ed. L' age de l' Homme, 2000
12 "Les conquerants du Cybermonde", Calmann Levy, 1995
13 "Internet, l' inquiétant extase", 1001 Nuits 1999
14 "L' imposture informatique", Fayard, 2000
15 "Homo videns", ed. Laterza, 2000
16 "Marchands et citoyens, la guerre de l' internet" L' Atlanta, 2001
17 Cf. as Resoluções do PE e os Pareceres do CES sobre as propostas da Comissão relativamente a:
- Decisão do PE e do Conselho relativo a um quadro regulamentar para a política do espectro de rádio frequências na Comunidade Europeia (COM (2000) 407 final)
- Directiva do PE e do Conselho relativo ao acesso as redes de comunicações electrónicas e às instalações associadas bem como à sua interconexão (COM (2000) 384 final)
- Directiva do PE e do Conselho relativa ao tratamento de dados pessoais e a protecção da vida privada no sector das comunicações electrónicas (COM (2000) 385 final)
- Directiva do PE e do Conselho relativa à autorização de redes e de serviços de comunicações electrónicas (COM (2000) 386 final)
- Regulamento do PE e do Conselho relativo à oferta separada de acesso à linha de assinante (COM (2000) 394 final)
- Directiva do PE e do Conselho relativo a um quadro regulamentar comum para as redes e os serviços de comunicações electrónicas (COM (2000) 393 final)
- Regulamento do PE e do Conselho relativo à implementação do domínio de topo "EU" na Internet (COM (2000) 827 final)
- Directiva do PE e do Conselho relativo ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes de comunicações comunicações (Com (2000) 392 final)
- Decisão do Conselho que adopta um programa comunitário plurianual para estipular a utilização de conteúdos digitais europeus nas redes mundiais e promover a diversidade linguística na sociedade de informação (COM (2000) 323 final)
Isto, para não falar já de todas as iniciativas comunitárias no âmbito da Sociedade de Informação e da Política do Audiovisual, que importaria ter chamado à colação na elaboração e apresentação do documento em apreço.
18 Cf. Ignacio Ramonet, "La Tyrannie de la communication", Galilée, 1999; P. Watzlawrich e outros "Une logique de la communication", ed. Seuil, 1972; Philippe Breton "L' utopie de la communication", La Découverte/Poche, 1997; Gian Paolo Caprettini "Sintesi Comunicazine", A.Vallardi, 2000; Jean Marie Chevalier e outros, "Internet et nos Fondamentaux", PUF, 2000; Dominique Wolton "Internet et aprés?" e "Internet, petit manuel de survie", Flammarion, 2000; Frederique Asseraf-Olivier e Éric Barbry, "Le droit du multimedia" PUF, 2000; Etienne Montero, "Droit des technologies de l' information: Regards prespectifs", Bruylant, 1999; Edward A. Canazas e Gavino Moun, "Cyberspace and the Law", MIT, 1994; Liliane Edwards e Charlotte Waelde, "Law and the Internet: regulating the cyberspace", Hart, 1997.
19 Cf. por todos, Vital Moreira, em diversas tomadas de posição públicas; já depois de escrito este papel, houve conhecimento da apresentação pública de projecto de lei sobre o assento pelo Governo cessante.